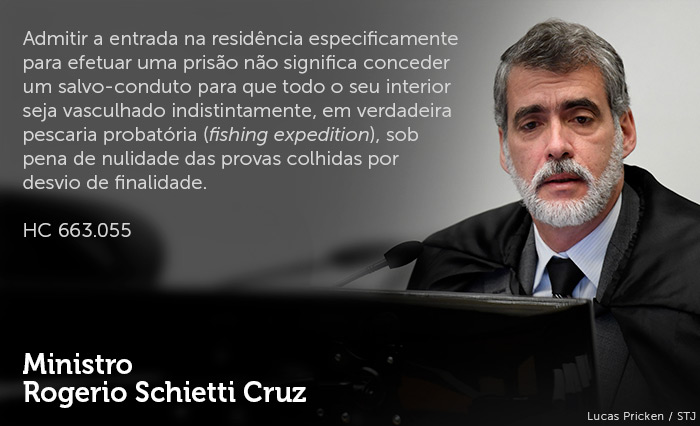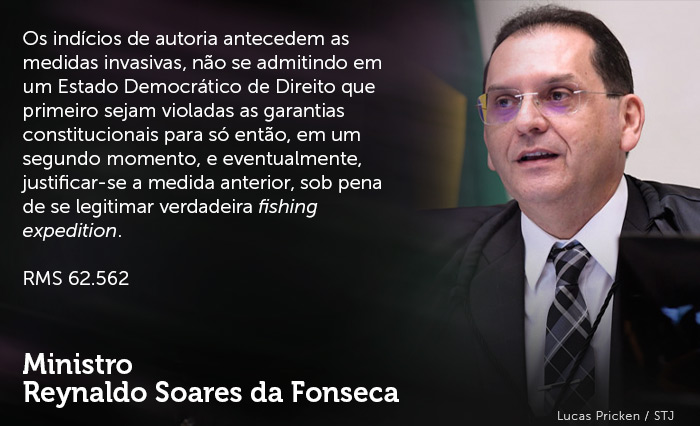Conhecida como pescaria probatória, fishing expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro – o qual não admite investigações especulativas indiscriminadas, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes na esperança de “pescar” qualquer prova para subsidiar uma futura acusação.
No entanto, admite-se o fenômeno do encontro fortuito, ou serendipidade, entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado.
Os limites entre uma e outra prática são objeto de análise em diversos processos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos quais, dependendo da forma como as provas foram obtidas, os ministros podem ou não entender pela sua legalidade.
Entrada em domicílio não é salvo-conduto para vasculhar seu interior indistintamente
No julgamento do HC 663.055, o relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, lembrou lições doutrinárias de Alexandre Morais da Rosa, para quem pescaria probatória “é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém”.
Segundo o autor e magistrado catarinense, fishing expedition é “a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade”.
Schietti destacou essas definições sobre o tema ao considerar ilícitas as provas colhidas por policiais em uma caixa no interior de uma residência (drogas e uma munição calibre .32), uma vez que os agentes ali entraram em busca de um fugitivo, sem ordem judicial e sem haver uma situação que justificasse a invasão dessa forma.
O ministro observou que, no caso, mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para cumprimento do mandado de prisão ou até por flagrante, houve desvirtuamento da finalidade do ato, porque as drogas e a munição foram apreendidas em uma caixa de papelão que estava no chão de um dos quartos – evidência de que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo fugitivo.
Revista pessoal baseada apenas em “atitude suspeita” é ilegal
O mesmo colegiado, no RHC 158.580, considerou ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou a atitude suspeita do indivíduo.
No julgamento, a Sexta Turma concedeu habeas corpus para trancar a ação penal contra um réu acusado de tráfico de drogas. Os policiais que o abordaram, e que disseram ter encontrado drogas na revista pessoal, afirmaram que ele estava em “atitude suspeita”, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento.
Para o relator do recurso, ministro Rogerio Schietti Cruz, a realização de busca pessoal – conhecida popularmente como “baculejo”, “enquadro” ou “geral” – necessita que a fundada suspeita a que se refere o artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP) seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência.
O ministro afirmou que a medida de busca tem uma finalidade legal probatória e não pode se converter em “salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal”.
Segundo o relator, o artigo 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, “mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata”.
Indícios de autoria devem ser anteriores às medidas de busca e apreensão
No mesmo sentido, no julgamento do RMS 62.562, a Quinta Turma determinou a destruição de todo o material apreendido em uma empresa em razão do reconhecimento de fishing expedition durante diligência de busca e apreensão. Segundo o processo, no curso da investigação de suposta organização criminosa que estaria envolvida em desvios de patrimônio do município de Poconé (MT), foi determinada a cópia de todo o banco de dados de uma empresa responsável pelo gerenciamento eletrônico de abastecimento e manutenção da frota da prefeitura.
O crime investigado era praticado por meio da simulação de abastecimento, com retirada de dinheiro em espécie do caixa de um posto de combustíveis. A empresa recorreu ao STJ para que os dados apreendidos fossem destruídos, ao argumento de que seus cartões seriam utilizados por mais de 130 mil estabelecimentos, entre clientes públicos e privados, sendo ilegal a apreensão de forma ampla, principalmente por não fazer parte da investigação.
O autor do voto que prevaleceu no julgamento, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ressaltou que não foi indicado nenhum indício de participação da empresa nos delitos investigados. O ministro destacou trecho do processo segundo o qual a autoridade policial afirmou que somente após a análise dos e-mails coletados se poderia verificar a existência ou não de conluio fraudulento entre a empresa e os servidores da prefeitura.
Encontro de provas de crime diverso durante busca e apreensão
No entanto, no RHC 39.412, a Quinta Turma julgou legais as provas encontradas durante busca e apreensão em um escritório de advocacia, cujo intuito inicial era a apreensão de uma arma que pertenceria a estagiário do estabelecimento. No decorrer da busca, os policiais encontraram 765 gramas de maconha, um revólver calibre .38, além de 14 cartuchos íntegros numa caixa de metal – artefatos que seriam do advogado dono do escritório.
Ao STJ, o advogado pediu que essas provas fossem consideradas ilícitas, uma vez que o mandado de busca e apreensão, além de genérico, não era dirigido a ele, mas ao estagiário do escritório, o que evidenciaria que os policiais envolvidos na diligência extrapolaram os limites da ordem judicial.
Para o relator, ministro Felix Fischer (aposentado), não seria razoável exigir dos policiais que fingissem não ver os crimes flagrados, para depois solicitar um novo mandado de busca e apreensão específico para o escritório. “A localização de elementos que configuram outros crimes, praticados por pessoa que não figura como objeto do mandado de busca e apreensão, se insere na hipótese nominada pela doutrina de encontro fortuito de provas”, entendeu.
Acesso a dados do celular de advogado alvo de investigação
No julgamento do RHC 157.143, a Sexta Turma considerou que o acesso aos dados telemáticos extraídos dos celulares de advogados investigados em uma operação policial não configurou investigação especulativa, tampouco serendipidade. Para o colegiado, ainda que a garantia do sigilo profissional entre advogado e cliente fosse preterida em relação à necessidade da investigação, ela seria preservada com a transferência do sigilo para quem estivesse na posse dos dados.
A quebra do sigilo telemático dos advogados foi pedida porque eles eram suspeitos de coagir testemunhas a prestar depoimentos falsos em juízo. A investigação tinha por finalidade desvendar uma organização criminosa composta por policiais civis, um agente penitenciário e um preso que supostamente abordavam agricultores e empresários da região, acusando-os de crimes ambientais para exigir dinheiro em troca da promessa de não aplicação de multa ou persecução criminal.
Ao STJ, os advogados pediram a limitação do conteúdo dos dados a serem extraídos dos celulares apreendidos, sob o fundamento de preservação do sigilo profissional. Para o relator do caso, ministro Sebastião Reis Junior, estava clara no processo a impossibilidade técnica de extração parcial dos dados, sendo necessário o processamento integral e a posterior análise do material para a coleta do que interessava à investigação.
O ministro comentou que, na execução de busca e apreensão em escritório de advocacia, para apurar a suspeita da prática de crime por advogado, “não há como exigir da autoridade cumpridora do mandado que filtre imediatamente o que interessa ou não à investigação, devendo o que não interessa ser prontamente restituído ao investigado após a perícia”.
Segundo ele, o mesmo raciocínio poderia perfeitamente ser aplicado quando do acesso aos dados telemáticos dos celulares, os quais foram apreendidos em razão da existência de sérios indícios da prática de crime por meio dos aparelhos.
Encontro fortuito de provas e conexão processual
Ao analisar o CC 186.111, a Terceira Seção manteve a competência da Justiça Federal para julgar a posse irregular de arma de fogo e de munições encontradas com suposto integrante de organização criminosa. Os artefatos foram apreendidos durante busca e apreensão determinada pela Justiça Federal, no contexto de investigação na qual se apurava a existência de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e armas.
O juízo federal declinou da competência relativa a esse crime para a Justiça estadual, ao fundamento de que a descoberta desses artefatos teria sido fortuita, caracterizando a serendipidade, bem como não haveria nenhum indício de transnacionalidade nas condutas.
Contudo, a relatora do conflito, ministra Laurita Vaz, entendeu que a competência no caso era da Justiça Federal, devido à conexão processual ou teleológica. “Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo”, declarou, lembrando que o instituto minimiza a ocorrência de decisões conflitantes.
Na avaliação da ministra, se a busca e apreensão determinada pela Justiça Federal ocorreu no contexto de investigação em que se apurava exatamente a existência de organização dedicada ao tráfico internacional de armas e de drogas, e tinha, entre seus objetivos, a apreensão de objetos dessa natureza, não poderia prosperar o argumento de que a descoberta de armas, munições e acessórios teria sido fortuita.
Fonte: STJ