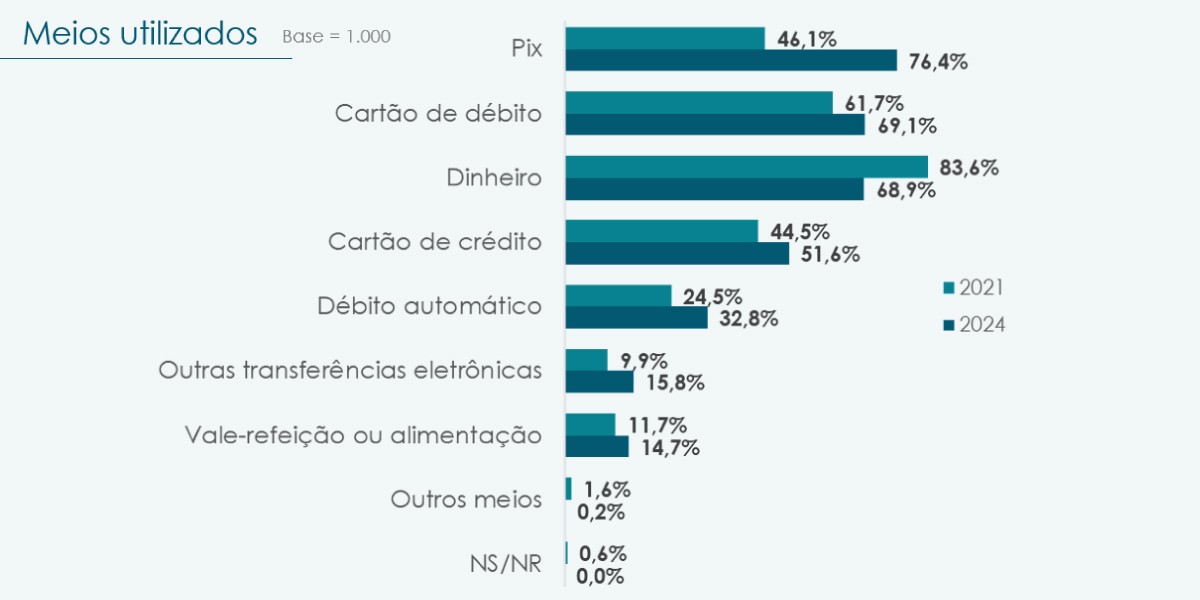É antiga a preocupação dos órgãos de controle [1] em evitar que a administração pública contrate a aquisição de bens ou serviços com preços superiores aos praticados pelo mercado [2]. No entanto, uma definição legal de sobrepreço só passou a existir muito recentemente, com a edição da Lei nº 13.303/16 (Lei das Estatais), conceito este reproduzido agora de forma quase que idêntica na Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações):
“Art. 6º (…) LVI – Sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada.”
Duas questões, porém, remanescem pouco debatidas pela comunidade jurídica. A primeira é acerca do conteúdo do conceito jurídico indeterminado “expressivamente superior”. Na prática, o cálculo do que seria o “preço de mercado” é frequentemente realizado de maneira similar à estimativa de preço na fase de planejamento da contratação pública, em que é comum extrair-se o preço médio de um conjunto de amostras como referência de preço de mercado. Resta, então, a dúvida: afinal, deve-se considerar sobrepreço – ilícito e sujeito a ressarcimento – qualquer valor acima da média de uma cesta de preços coletados pelos órgãos de controle?
A segunda questão envolve a expressão “preços referenciais de mercado”. Dada, pois, a pluralidade de valores que compõem essa cesta, quais destes deve ser tomado como preço-paradigma do valor de mercado?
Da resolução destas questões dependem os órgãos de controle para uma atuação segura quanto à caracterização do ilícito e quantificação do dano ao erário.
Expressivamente superior
Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que foi feliz o legislador ao estabelecer que para um preço negociado pela administração pública ser considerado ilícito (em razão de sua antieconomicidade), deve-se estar diante de um valor desarrazoadamente mais alto do que o normal. Em outras palavras, são lícitas as contratações públicas que, apesar de terem objeto similar, são contratadas por preços significativamente diversos, dentro de uma margem que varia entre o preço quase inexequível e o preço quase excessivo.
As razões são simples: em primeiro lugar, os princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada (artigo 170 da Constituição) garantem ao fornecedor liberdade para, em condições competitivas, estabelecer subjetivamente o preço que lhe pareça mais adequado para seus produtos ou serviços.
Em segundo, cada contratação possui peculiaridades quanto à localidade, quantidade, forma de entrega e demais condições gerais. Embora uma boa estimativa de preços por parte do agente que faz o planejamento deva considerar esses aspectos, é praticamente impossível coletar amostras de preços negociados em condições idênticas às do órgão que planeja uma aquisição, o que torna a estimativa (perdoem-nos a redundância) uma mera estimativa.
Por fim, mesmo quando o preço médio é corretamente estimado (considerando as particularidades da contratação), ele não deve ser necessariamente estabelecido como preço máximo, pois isso pode levar ao fracasso da licitação, acarretando um aumento significativo dos custos transacionais. Apesar de a lei exigir a desclassificação de propostas com preços acima do orçamento estimado, este valor final de referência não precisa ser igual à média dos preços coletados [3].
Quão expressivo deve ser o preço para ser considerado sobrepreço?
Não será muito difícil para os órgãos de controle caracterizar sobrepreço quando o percentual em relação à média de mercado for algo notoriamente desproporcional. Se um determinado bem X é adquirido por um órgão ao custo de R$ 45 a unidade, enquanto a média de outras aquisições públicas homogêneas é de R$ 15 (supondo mesmas especificações, quantitativos próximos e mesmo local de execução), é razoável presumir, em princípio, que houve compra em patamar “expressivamente superior” (200%), caracterizando sobrepreço.
No entanto, quando nos referimos a produtos cujas amostras para fins de estimativa são escassas ou quando tratamos de serviços minimamente personalizados ao órgão contratante, uma comparação com outras aquisições se torna muito difícil, dadas as peculiaridades (nem sempre evidentes) de cada contratação. Nestes casos, é preciso cautela para não incorrer no equívoco de chamar de sobrepreço – o que induz à ideia de ilicitude – todo valor que supere a média de um conjunto de preços pesquisados, ainda que aparentemente significativos em termos percentuais. Lembremos que a metodologia utilizada para fixação do preço de referência da contratação (hoje prevista no artigo 23 da Lei 14.133/21) é inevitavelmente falha e imprecisa e aquele preço, que o órgão de controle alcança em cálculo feito em momento posterior, frequentemente será muito diferente do obtido pelo servidor responsável pela orçamentação na fase de planejamento (aliás, é provável que cada pessoa que, de forma independente, faça uma estimativa orçamentária chegue sempre a um valor diferente).
Por outro lado, em contratações de valor global elevado, especialmente obras e serviços de engenharia, é possível falar em preço “expressivamente superior” aos referenciais de mercado mesmo com variações percentuais pequenas em relação aos preços médios estimados dos itens individuais (e ainda que os preços negociados estejam em conformidade com os bancos de preços públicos, como Sinapi e Sicro). Isso ocorre quando não se considera o “efeito barganha” ou a economia de escala.
Este fenômeno ocorre porque grandes empreiteiras, devido ao seu poder de negociação e capacidade de compra em larga escala, conseguem obter insumos e serviços a preços consideravelmente inferiores aos valores de referência (o que nem sempre é fácil de estimar durante a fase de orçamentação). Consequentemente, percentuais mínimos – ou até nulos – acima da média podem, na realidade, ocultar um sobrepreço substancial. A operação “lava jato” revelou diversos casos ilustrativos deste cenário, em que obras de infraestrutura apresentavam itens orçados próximos ou ligeiramente acima dos valores de referência, mas que, na prática, resultaram em margens de lucro extraordinárias para as empreiteiras, evidenciando um sobrepreço significativo quando analisado o contexto global da contratação [4].
Daí porque o Tribunal de Contas da União (TCU) já decidiu no sentido de que não existe percentual tolerável de sobrepreço. Como exemplificado no Acórdão 1155/2012 – Plenário:
“não procede o argumento de que, por representar percentual insignificante em relação ao valor global da contratação, o sobrepreço estaria dentro da faixa de aceitação e refletiria oscilações normais de mercado, já que não existe percentual de sobrepreço aceitável.”
Em suma, não havendo como estabelecer um parâmetro objetivo em termos percentuais, resta evidente que a ideia do que é “expressivamente superior” aos preços referenciais de mercado dependerá muito das circunstâncias específicas de cada contratação.
O que nos parece razoável postular, desde logo, é que quanto maior a diferença percentual entre o preço negociado e o preço-paradigma, maior a presunção de ocorrência de sobrepreço (cabendo ao agente público responsável maior esforço quanto à justificativa do preço contratado). De modo inverso, quanto menor a diferença percentual entre o preço negociado e o preço-paradigma, maior a presunção de licitude (cabendo aos órgãos de controle maior esforço probatório em relação à ilegalidade do preço contratado).
A questão semântica
Durante muito tempo, chamou-se, irrefletidamente, de sobrepreço qualquer montante acima de uma média estimada pelos órgãos de controle. É importante que os entendimentos do TCU não sejam interpretados fora do contexto específico dos casos julgados, sob pena de gerar considerável confusão e insegurança jurídica.
O conceito legal, que é posterior ao acórdão mencionado, deixa claro que nem todo valor acima da média pode ser considerado sobrepreço, mas apenas aquele “expressivamente” superior aos preços referenciais de mercado. Portanto, se não pode haver percentual de sobrepreço aceitável (o que parece lógico, já que se trata de ilícito), deve-se considerar inaceitável a variação acima do que se considera “expressivamente superior” caso, de fato, a contratação tenha se mostrado ilícita no contexto específico analisado.
E quanto ao preço-paradigma?
O cálculo preciso do sobrepreço, para fins de quantificação do dano ao erário e eventual valor devido de ressarcimento, depende não somente da definição do conceito indeterminado “expressivamente superior”, de que se tratou anteriormente, mas da definição do “preço de mercado” que será considerado o preço-paradigma.
Não faz sentido considerar como referência de preço de mercado a média de um conjunto de amostras de preços relativos a outras contratações. Por um motivo simples: isso implicaria considerar como preço ilícito todos os preços acima da média, inclusive aqueles utilizados para compor a própria cesta de preços. Exemplificando, se para compor uma cesta de preços, utiliza-se um preço de R$ 10, outro de R$ 15 e outro de R$ 20, a média será R$ 15. Se a média for considerada como preço-paradigma, estar-se-ia afirmando que o preço de R$ 20 (que se utilizou como um dos preços referenciais de mercado) seria ilícito. Ora, se é ilícito, não poderia ter composto a cesta de “preços referenciais de mercado”, que a lei considera como aceitável.
O preço-paradigma deve ser sempre – no mais rigoroso dos cálculos – o preço mais alto utilizado para compor a cesta de preços. A propósito, a 1ª edição do “Guia de boas práticas em contratação de soluções de tecnologia da informação”, do Tribunal de Contas da União, de 2012, já alertava para esse cuidado:
“Se o preço estimado é resultado do cálculo de uma média de preços, isto significa que os preços acima ou abaixo da média usados no cômputo foram considerados como legítimos, senão não poderiam ter entrado no cálculo da estimativa.”
Infelizmente, muitos órgãos de controle – replicando acriticamente a metodologia de pesquisa de preços e orçamentação da fase de planejamento de uma contratação – utilizam como preço-paradigma o preço médio. Embora isso possa fazer sentido para fins de definição de preço referencial, não o faz para fins de cálculo de sobrepreço e eventual quantificação de dano ao erário.
Conclusão
Não se propõe aqui a resolução definitiva do conteúdo das expressões “expressivamente superior” ou “preços referenciais de mercado”, senão muito mais uma sinalização daquilo que se entende não ser possível extrair dos termos da lei.
Primeiramente, a ideia do que é “expressivamente superior” nunca pode ser descontextualizada das circunstâncias verificadas no caso concreto. Portanto não se chamar de sobrepreço (dado o conceito legal) todo preço negociado acima de um determinado preço-paradigma extraído de um conjunto de preços pesquisados, ainda que este preço esteja acima da faixa de preços considerados aceitáveis.
Mas nos parece razoável inferir que quanto maior a diferença percentual entre o preço negociado e o preço-paradigma, maior a presunção de ocorrência de sobrepreço (cabendo ao agente público responsável maior esforço quanto à justificativa do preço contratado). De modo inverso, quanto menor a diferença percentual entre o preço negociado e o preço-paradigma, maior a presunção de licitude (cabendo aos órgãos de controle maior esforço probatório em relação à ilicitude do preço contratado).
Quanto à definição do preço-paradigma, é preciso ter cuidado para não se utilizar do preço médio de uma estimativa como preço-paradigma, sob pena de acabar se considerando como ilícito preços que, pela própria construção da estimativa, foram previamente validados como legítimos. No mais rigoroso dos cálculos, apenas o maior valor pode ser considerado preço-paradigma.
Em síntese, uma melhor compreensão do conceito legal de sobrepreço é essencial para conferir maior segurança jurídica no âmbito da administração pública e robustez às análises dos órgãos de controle. Um entendimento alinhado às particularidades de cada contratação, e com a metodologia correta, permite evitar interpretações arbitrárias, garantindo maior consistência e credibilidade à atuação controladora.
[1] Aqui me refiro, sobretudo, à Polícia Federal, Ministérios Públicos e Tribunais de Contas.
[2] Naturalmente, essa preocupação tem fundamento constitucional, particularmente no princípio da economicidade (art. 70, caput).
[3] A Instrução Normativa nº 65/2021 do Ministério da Economia, em seu artigo 6º, § 2º, permite que se acrescente ou subtraia um percentual do preço estimado, visando aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.
[4] Um exemplo ilustrativo do efeito barganha e da economia de escala em grandes obras foi revelado na Operação Lava Jato. Na construção da Refinaria Abreu e Lima (Ipojuca/PE), o preço do aço (exclusive instalação) foi de R$ 4,93/kg, enquanto em uma obra de pequeno porte no interior do Paraná (Creche Tipo II – Proinfância em Rio Azul/PR), o preço do aço (inclusive instalação) foi de R$ 4,40/kg. Ou seja, uma pequena empresa conseguiu melhores condições de preço para a administração pública do que uma grande empreiteira, ainda que esta última tivesse adquirido uma quantidade 4 mil vezes maior. VALLIM, João José de Castro Baptista. Engenharia forense: metodologias aplicadas na operação “lava jato”. Curitiba: Juruá, 2018. p. 190.
—
O post O que é sobrepreço, afinal apareceu primeiro em Consultor Jurídico.