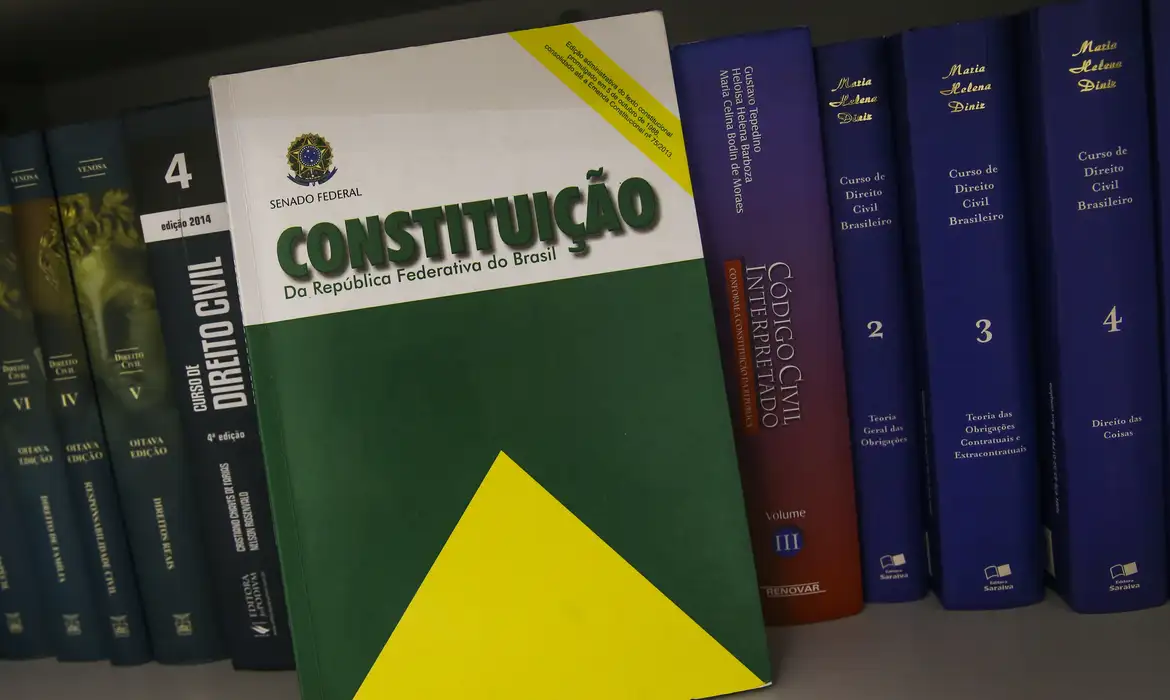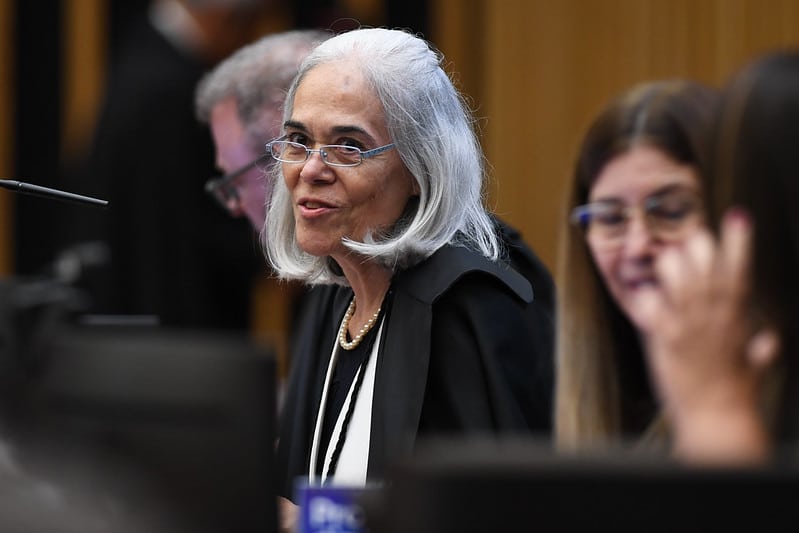Evento híbrido sobre a nova lei sobre comércio exterior
No dia 28 de outubro de 2024 (segunda-feira), das 9h às 17h, será realizada, na sede do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp), o evento híbrido (presencial e on-line) “A lei geral de comércio exterior e a modernização das aduanas” para discutir o projeto de lei geral do comércio exterior desenvolvido por especialistas da Receita Federal do Brasil, da Secretaria de Comércio Exterior, e da Consultoria Legislativa do Senado.
O evento será realizado conjuntamente pelo Instituto de Pesquisas em Direito Aduaneiro (IPDA) e pela Comissão de Estudos Aduaneiros do IASP, contando com a participação de alguns dos autores do anteprojeto, de membros desta coluna e de especialistas na área aduaneira e do comércio internacional.
Os impactos práticos da nova lei sobre as empresas
O projeto da nova lei tem por objetivo aprimorar o gerenciamento de riscos e introduzir a obrigatoriedade do Portal Único de Comércio Exterior, que pretende trazer maior eficiência no despacho aduaneiro e no controle de mercadorias por meio do emprego de tecnologias digitais e documentos eletrônicos. Além disso, busca eliminar barreiras burocráticas e promover o uso intensivo de automação, com foco na transparência e previsibilidade, bem como ampliar o escopo das “soluções antecipadas” e com foco na autorregularização de processos, oferecendo ferramentas de prevenção litígios no âmbito aduaneiro.
O projeto também visa reclassificar os regimes aduaneiros, alinhando-os aos moldes da Convenção de Quioto Revisada (CQR), já em vigor no Brasil, bem como ao Projeto de Lei Complementar nº 68/2024 (Reforma Tributária sobre o Consumo) que ainda tramita no Senado Federal. A importância do projeto, portanto, vai além de modernizar e consolidar a legislação referente ao comércio exterior no Brasil. Ele busca simplificar o conjunto de normas vigentes, torná-las mais acessíveis e previsíveis para importadores, exportadores e operadores logísticos, e aproximar a legislação brasileira das melhores práticas internacionais.
Um dos seus principais objetivos, como tratado em texto desta coluna (link), é reunir as diversas disposições esparsas em um único corpo legislativo de normas gerais que cuidam de regulação, fiscalização e controle sobre mercadorias, simplificando o conjunto de regras que hoje são regidas, em grande parte, pelo Decreto-Lei nº 37/1966, com o intuito de reduzir a complexidade das operações de comércio exterior e aumentar a segurança jurídica. Outro ponto central é a introdução de inovações, como o uso de ferramentas digitais e a adaptação às exigências internacionais, que têm impacto direto na competitividade do país, criando, ainda, o marco legal doméstico para a facilitação do comércio e para o controle administrativo de mercadorias.
A trinca estrutural do anteprojeto
O Livro I do anteprojeto trata das disposições gerais, estabelecendo os conceitos fundamentais e a base legal que regulamenta o comércio exterior, define o território aduaneiro, os sujeitos de comércio exterior, e conceitua as áreas alfandegadas. Introduz um título dedicado à facilitação do comércio, trazendo conceitos inéditos como o do Portal Único de Comércio Exterior (Pucomex), a divulgação de informações na plataforma também em inglês, a possibilidade de uso de documentos digitais ou nato-digitais em substituição aos documentos físicos, a ampliação do uso de pagamento eletrônico para as operações, e a ampliação do escopo temático de soluções antecipadas.
Por sua vez, o Livro II é dedicado ao controle e fiscalização das operações de comércio exterior. Aborda a forma como deverá ser estruturada a gestão de riscos, trazendo maior transparência no uso e divulgação das informações, regulamentando os procedimentos de inspeção, despacho de mercadorias, e auditorias aduaneiras. Também abrange as regras para o depósito temporário de mercadorias e o controle pós-liberatório, permitindo que as autoridades fiscalizem as operações mesmo após a liberação das mercadorias.
O livro destaca o papel da Receita e de outros órgãos, reforçando a importância da automação e do uso de sistemas digitais para tornar o processo mais rápido, objetivo e eficiente, com foco no detalhamento dos procedimentos fiscais aduaneiros, além de um título inédito dedicado ao controle desempenhado pelos órgãos intervenientes, havendo o detalhamento dos estágios de Tratamentos Administrativos que podem ser promovidos sobre importação ou exportação de mercadorias no âmbito do Pucomex.
Por fim, o Livro III é focado nos regimes aduaneiros, finalmente conceituando a categoria de um regime comum e agrupando em quatro gêneros internacionalmente conhecidos os regimes aplicados em áreas especiais[1] (e.g. trânsito aduaneiro, depósito aduaneiro, permanência temporária e regimes de aperfeiçoamento).
Ademais, deixa de se falar em um Termo de Responsabilidade para constituição de obrigações fiscais, adotando-se implicitamente a ideia de não incidência quando da aplicação desses regimes. A lógica buscada pelo Livro III determina que uma de suas formas de extinção é o despacho para consumo, hipótese que agora aproxima os regimes de Drawback e Recof. Aborda, ainda, os benefícios a eles associados e traça as linhas gerais dos regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais (Áreas de Controle Integrado, Zona Franca de Manaus e Zonas de Processamento de Exportação). Embora o anteprojeto forneça diretrizes gerais, deixa a cargo de órgãos como a Receita Federal a complementação e regulamentação de aspectos operacionais específicos.
Contexto e justificativas
Em artigo publicado nesta coluna (link), abordamos que as codificações e consolidações têm como objetivo comum racionalizar, organizar, simplificar e tornar mais transparente e acessível a legislação. Sob este viés, o Projeto de Lei nº 508/2024 (PL 508), apresentado ao Senado Federal, em 29/02/2024, ao buscar consolidar a legislação federal esparsa sobre o comércio exterior e a tributação aduaneira, recebeu a crítica de repaginar mecanicamente uma legislação sexagenária e, em alguns aspectos, retrógrada, como os autores deste artigo já trataram em outros escritos (link).
O projeto de consolidação teve o mérito de fomentar não apenas a discussão em torno do tema, mas também de impulsionar (e mesmo possibilitar) a reunião de especialistas para promoverem os estudos para a elaboração do anteprojeto de uma lei, de caráter nacional, baseada na modernização do aparato normativo voltado a tratar do comércio internacional.
Este novo texto produzido pela comissão não teve a pretensão de sistematizar os principais temas da matéria (e, portanto, sem as credenciais para se apresentar como um código), mas tampouco buscou apenas reunir em um único corpus coeso e coerente o texto positivo preexistente, mas inovar e adequar o direito posto para a realidade atual do país e do estado da arte da tecnologia (e, portanto, sem as características de uma consolidação). Por este motivo, tratou-se, antes, de uma “lei geral do comércio exterior”, ao estabelecer “normas gerais” para a matéria.
Objeto e normas gerais em matéria de comércio exterior
O objeto da lei é, como define em seu artigo inaugural, estabelecer “normas gerais” para o desempenho das atividades de regulação, fiscalização e controle sobre o comércio exterior de mercadorias.
Apesar de possuir um dispositivo de diretrizes aplicáveis a toda a legislação aduaneira que emana comandos mais genéricos, o texto irradia também disposições específicas que deverão ser consideradas na interpretação de temas relativos aos eixos temáticos de que tratam os Livros I, II e III. Neste contexto, o anteprojeto transbordará seus efeitos desde seu glossário – explicando conceitos básicos do comércio exterior – até aspectos pontuais importantes de Regimes Aduaneiros Especiais – como a refundação conceitual do que caracteriza os Regimes Aduaneiros.
Definições e vaguezas
O artigo 2º do anteprojeto proposto, em prestígio à busca de precisão determinada pelo artigo 11 da Lei Complementar nº 95/1988, busca incorporar um glossário mínimo ao definir determinados termos e expressões. Observe-se que o esforço se dobra à tradição em determinados momentos como ao reafirmar o “despacho para consumo” como o “procedimento” para submeter a mercadoria ao regime aduaneiro comum, aproximando o conceito da lógica do Direito Administrativo.
Em outros momentos, meramente reproduziu o conhecido conceito de importação apenas para a interpretação do PL, definida como a “entrada da mercadoria no território aduaneiro”, mantendo-se em aberto discussões teóricas em outros domínios como a mera transposição física ou cruzamento da fronteira, não apenas por meio dos recintos alfandegados, mas de qualquer ponto do território.
Tal definição se aproxima daquela eleita pelo Acordo de Facilitação do Comércio (AFC), ao optar pelo termo “introdução” de mercadorias estrangeiras no território nacional. Por outro lado, a escolha pela CQR confere um acento maior no procedimento e na entrada regular ao fazer remissão expressa à regularidade da entrada com animus de definitividade (documentos, conferência e recolhimento de tributos). A interpretação, portanto, acaba por precisar de uma construção com caráter sistemático para chegar à norma, o que pode ser reforçado pela definição mercosulinas da materialidade da tarifa, que pressupõe “importação definitiva de mercadoria para o território aduaneiro”.
Para fins aduaneiros, passou explicitamente a se definir (conceito até então inexistente) o que vem a ser um “regime aduaneiro comum”, traduzindo que o signo jurídico da importação precisa se somar ao aspecto volitivo (entrada definitiva) para que assim se possa consumar o tratamento aduaneiro à mercadoria importada.
Portanto, o texto caminha no seu glossário de definições na exata medida do necessário ao utilizado pela mesma Lei, sem conceituar temas que nem sequer poderiam dele fazer parte, como definições de “erro escusável”, esta afeta ao campo da aplicação de penalidades e infrações.
Controle aduaneiro, conferência e fiscalização
Algo semelhante pode ser dito a respeito de um específico aspecto da “modernização” utilizado pelo anteprojeto: o recurso intensivo a tecnologias digitais como forma de viabilização do controle aduaneiro. De fato, tal escolha pode criar barreiras para pequenas e médias empresas, havendo uma tendência a direcionar determinados custos operacionais ao setor privado (a “privatização” dos custos administrativos, que se tornam custos de conformidade, proporcionalmente maiores conforme menor o porte da empresa) [2].
No entanto, as alegações de eventuais dificuldades em se adaptar ao novo sistema tecnológico não parecem ser suficientes para deixar de lado a constatação de que tal postura seja um aliado (inevitável) da facilitação do comércio, e que a crítica poderá ser dirigida à forma da implementação [3], não parecendo ser necessário que o anteprojeto preveja (de maneira textualista) prazos e detalhes operacionais.
O texto avança em incrementar garantias às pessoas intervenientes. Cite-se a divulgação, de forma pública, de fatores abstratos considerados pela administração aduaneira para fins de gestão de riscos, ou a necessidade de se continuamente melhorar os critérios de seleção de risco. Digno de nota, ainda, a obrigação de a autoridade aduaneira indicar objetivamente os elementos analisados em relação às mercadorias importadas.
O ganho de transparência é imensurável. Outras questões a respeito do controle poderão ser bem conduzidas no debate legislativo a respeito do anteprojeto, como a ampliação do aspecto temporal do despacho aduaneiro para momentos posteriores à própria liberação da mercadoria, permitindo-se um debate a respeito sucessivas intervenções sobre um mesmo fato jurídico (e.g. auditoria pós-liberatória), fato que pode aumentar o contencioso aduaneiro que agora irá se debruçar sobre nova terminologia em detrimento da conhecida expressão “revisão aduaneira” .
Estabelece o artigo 13 do anteprojeto que a autoridade aduaneira possui o poder de, entre outras coisas, requisitar documentos e informações, inclusive em formato digital, e de solicitar o auxílio da força pública em situações que apresentem risco à segurança ou possibilidade de fuga de pessoas, veículos ou mercadorias. Tais previsões são aceitas pelo ordenamento brasileiro, desde que realizadas “no interesse do controle aduaneiro”, à semelhança do § 2º do artigo 113 do CTN, expressão que pode ser acrescida ao caput.
O artigo 3º do anteprojeto aponta para os nortes magnéticos a serem perseguidos pela regulação, fiscalização e controle sobre o comércio exterior, tais como a sutil menção ao “interesse nacional” em substituição ao conhecido termo do artigo 237 da CF/88, que somente resguardava o “interesse fazendário nacional”.
Nota-se, assim, que a regulação, fiscalização e controle passam a ter de modo geral todos os valores da sociedade brasileira insculpidos pelo constituinte originário, exemplificando-se aqueles mais afetos aos domínios comércio exterior como o fortalecimento da economia brasileira, o fomento ao desenvolvimento nacional e a livre concorrência.
Todos os vetores indicados (e não indicados) pelo dispositivo são importantes, mas a ampliação do escopo de valores a serem protegidos é o que sobressai. Isso sem descurar da ideia de não-discriminação, importante garantia da livre circulação de mercadorias, e pedra estruturante de diversos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, merecendo seu lugar no artigo como forma de resguardar os interesses também dos importadores, uma vez que a liberalização regrada das políticas comerciais e a integração à disciplina multilateral de regulação do comércio são igualmente formas de expressão dos interesses nacionais.
Conclusão
No dia 15 de outubro de 2024, celebramos o Dia dos Professores no Brasil. Em meio aos debates sobre a nova Lei Geral do Comércio Exterior, esperamos que essa temática continue a ganhar destaque nas salas de aula e na Academia. Que esse projeto seja amplamente discutido em pesquisas científicas, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento de um direito aduaneiro sólido e atualizado, essencial para o alinhamento do Brasil às melhores práticas internacionais e à modernização do seu aparato regulatório no comércio exterior.
[1] Vide ANDRADE, Thális. O conceito de Regime Aduaneiro Especial no Brasil in Perspectivas e desafios do Direito Aduaneiro no Brasil (org. TREVISAN, Rosaldo et al), Brasília: Ed. Caput Libris, 2024.
[2] TAKANO, Caio Augusto. Deveres instrumentais dos contribuintes: fundamentos e limites. São Paulo: Quartier Latin, 2017.
[3] Como tem sido feito em trabalhos como: REIS, Raquel Segalla. Gestão de riscos no despacho aduaneiro de importação: inteligência artificial como instrumento e agente de controle. 2024. 194 f. Dissertação (Programa Stricto Sensu em Direito) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. Disponível neste link.
—
O post Lei Geral de Comércio Exterior: um alinhamento importante apareceu primeiro em Consultor Jurídico.